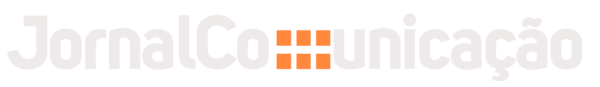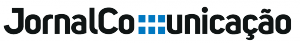Zuenir Ventura intimida pela grandiosidade de seu trabalho, mas traz consigo o calor do Rio de Janeiro. “Aqui vocês dão um beijo só para cumprimentar, mas eu vou te dar outro”, diz entre risos. Mineiro radicado no Rio, é colunista do jornal O Globo e carrega no currículo livros como 1968 – O ano que não terminou, Chico Mendes: Crime e Castigo, e Cidade Partida. O último lhe garantiu um Prêmio Jabuti – o maior prêmio de literatura brasileira – em 1995. O jornalista abriu no último dia 15 de setembro as palestras da 33ª Semana Literária do Sesc, que acontece juntamente com a 12ª Feira do Livro da Editora UFPR, na Santos Andrade.
Esse ano, o evento teve como tema a violência e homenageia a obra literária de Rubem Fonseca. Zuenir falou de suas opiniões e experiências com o assunto. O principal destaque foi para o trabalho que fez na redação do livro-reportagem Cidade Partida. Durante dez meses o jornalista conviveu com os moradores da favela do Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Atravessou para “o outro lado” da cidade, onde a violência é rotina. Mesmo com o tema espinhoso, o jornalista é positivo. “Por natureza, no meu DNA, tem duas coisas: eu sou careca e otimista”, brinca.

Foto: Giulia Halabi
Como está sendo a experiência da Semana Literária?
Eu estou adorando. Estou sendo tão carinhosamente bem recebido aqui que, o dia que me tratarem mal no Rio, eu venho pra cá. É muito carinho, muito afeto, muita informação. As pessoas leram os meus livros, têm visão crítica, são participativas, enfim, me surpreende muito o nível elevado da plateia. É uma troca de experiência muito grande.
Qual é a importância de se discutir a violência em um evento literário como esse?
A violência é um dos temas cruciais hoje no país e que se discute pouco. É o que está no cotidiano das pessoas, nas cidades. Além disso, a violência é retratada na literatura e no jornalismo. E este, por exemplo, é acusado de supervalorizar a violência. Alguns dizem até que ele acaba inventando a violência. São exageros que a crítica faz em relação ao olhar da imprensa. Ela pode até amplificar os acontecimentos, mas infelizmente não estamos inventando a violência. Se o problema fosse do jornalismo, era muito fácil, porque corrigia o jornalismo e estava resolvido. É muito mais sério. A gente não sabe realmente quais são as causas da violência. Há várias causas, como há vários tipos de violência.
Quando você escreveu Cidade Partida, a imprensa contribuía para criar alguns preconceitos em relação à favela. Hoje, isso ainda acontece?
Acontece muito menos, acho que a imprensa já faz autocrítica. Modéstia parte, acredito que eu contribuí, no Rio de Janeiro, para que o repórter fizesse trabalho de campo e não se contentasse com a informação em segunda mão. No jornalismo dos anos 50 a fonte principal dos repórteres policiais era a própria polícia. Ela que dizia quem era bandido. Isso realmente mudou muito. Hoje a imprensa é participativa, não se contenta apenas com a visão da polícia. A imprensa é mais responsável e esse trabalho é muito mais trabalhoso, porque é mais fácil se contentar com a informação da polícia do que ir apurar, investigar. Um exemplo é o Tim Lopes, querido colega e mártir da nossa atividade, que foi morto porque estava fazendo trabalho de campo, recolhendo elementos para denunciar o tráfico nos bailes funks.
As ações da polícia, como nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) e na repressão a manifestações, têm causado bastante discussão. Qual é a sua opinião a respeito do atual posicionamento da polícia?
A gente tem uma polícia com a mentalidade herdada da ditadura. Quer dizer, a polícia como instrumento de truculência, de violência. Eu sou muito crítico em relação às jornadas de junho de 2013, mas lá a violência começou com a polícia. Não é essa a polícia que a gente quer, nem para coibir o crime – o narcotráfico, os assaltos -, nem para as manifestações políticas. A polícia age como se tivesse uma guerra, como se o cidadão fosse inimigo. E polícia não é isso. Isso é soldado em tempo de guerra. A polícia é para reprimir, é para controlar quando necessário. Não é para transformar o cidadão em inimigo. Claro que depois também houve muitos excessos dos black blocs, dos vândalos, mas a polícia não está preparada ainda para coibir essas ações de maneira cidadã. Enfim, prende quem não deve e não prende quem deve.
Você coloca seus personagens de Cidade Partida e os de 1968 – O Ano que não acabou como pessoas completamente diferentes, mas com anseios de melhorar o mundo. Os jovens das jornadas de junho também entram nessa definição?
Eu acho que os jovens de junho se aproximam dos de 1968 com algumas diferenças. A principal é que a realidade é outra. Em 1968, tinha uma ditadura, tinha tortura. Hoje, tem uma democracia, que é imperfeita e inacabada, mas é uma democracia. Há diferenças também no conceito de geração. Lá em 68, a geração era uma coisa só. Hoje, ela é muito fragmentada, tem muitas tribos, cada uma com cultura própria e hábitos próprios. Mas como analogia, tem esse desejo de mudança e participação que é muito próprio do jovem em toda a história, não só no Brasil.
O que eu acho que não foi positivo nas manifestações de junho foi a deturpação dos objetivos. Ou seja, revidar a polícia com violência também. O quebra-quebra, o vandalismo. Houve, realmente, um equívoco que precisa ser corrigido. Mas eu acho que é fundamental a participação do jovem.
Você se diz muito otimista. Diante de todo esse quadro de violência, por que ser otimista?
Por natureza, no meu DNA, tem duas coisas: eu sou careca e otimista. Mas não é esse otimismo babaca, cor-de-rosa. Não é que não esteja ruim, mas eu acho que está melhor do que 20 anos atrás. O país era muito pior.
Eu acredito muito no Brasil, na energia desse país. Nós não temos alguns dos problemas que se tem na Europa. Estamos discutindo violência, mas nós não temos fundamentalismo religioso ou étnico como tem lá. Embora o Brasil tenha violência urbana, não tem terrorismo. E eu acredito muito no povo brasileiro. O problema do Brasil não é o povo, são os dirigentes. Eu até acho que o povo é muito paciente, muito tolerante. Tolerante demais. Eu acredito que o brasileiro não tem a vocação do ódio, da raiva. Tem a vocação da alegria, da felicidade.