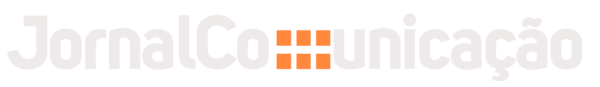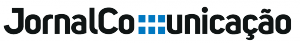38% dos brasileiros se reconhecem como fãs, e esses indivíduos gastam, em média, R$ 199,41 mensais em produtos, ingressos ou experiências relacionadas a seus ídolos, valor cinco vezes maior do que o gasto médio mensal com cultura no país. É o que revelou um levantamento realizado pela consultoria de marketing Monks, em parceria com o instituto de pesquisa comportamental Floatvibes e publicado em outubro de 2024.
“A sensação de realmente estar vivo, de estar onde você deveria estar e se sentir grato por ter vivido até aquele momento que é sempre tão especial.” Para a fã da banda Twenty One Pilots, Julia Roque, esse é o significado de estar no show da banda que é muito fã. O fanatismo, muitas vezes reduzido a visões simplistas, deve ser analisado como um comportamento social que envolve fatores culturais, econômicos, psicológicos, políticos e até mesmo biológicos e que nem sempre é saudável.
No Brasil, o fanatismo político já deixou de ser exceção e se tornou parte do cotidiano: segundo pesquisa realizada pelo Jornal Comunicação na primeira quinzena de novembro de 2025, 70% dos entrevistados afirmam já ter rompido ou se afastado de alguém por divergências eleitorais. Um dos participantes resume o impacto desse fenômeno: “Acredito que, de forma geral, o fanatismo político é sustentado por pessoas que não querem enxergar além da sua opinião ou do que foi imposto a elas.” Na prática, o debate democrático dá lugar ao descontrole emocional, ao fascínio cego e ao medo de discordar, sinalizando um desgaste preocupante na vida em sociedade.

Pertencimento
“Parassocial” foi eleita a palavra do ano de 2025 pelo Dicionário de Cambridge. O adjetivo representa uma relação que alguém experimenta com uma pessoa famosa que não conhece, um personagem de livro, filme ou série de TV, etc., ou uma inteligência artificial. O fã da cantora pop Ariana Grande, Léo Davi, representa inúmeros fãs que sentem nas personalidades que amam o apoio que precisavam em momentos difíceis da vida. Ele conta que durante seu ensino fundamental, era o único gay da escola e que era perseguido por isso, mas que se apegou muito ao álbum Sweetner da cantora, que fala sobre continuar na luta, não desistir e confiar que o dia de amanhã será melhor. “Eu me agarrei muito a isso, a essa mensagem que as músicas da Ariana falavam diretamente pra mim, eu sentia e sinto até hoje uma conexão tão forte com ela que eu realmente não sei nem expressar em palavras”, confessa.
“Ser fã é diferente de ser uma audiência engajada, embora possam parecer muito semelhantes. Mas para o fã, o texto midiático (artistas, séries…) que adora tem um significado maior, ligado à sua identidade, à sociabilidade com outros fãs e, muitas vezes, à práticas específicas de fãs”, aponta a coordenadora do Laboratório CULTPOP, Giovana Santana Carlos.
Significa muito mais do que assistir homens de peruca, significa apoiar uma comunidade que faço parte
Alexandre Lionel, fã do reality show Ru Paul Drag Race
Para a doutora em Comunicação e Jornalista Sandra Nodari,os fandoms, especialmente na era das redes sociais, abrem espaço para visibilização de questões identitárias e de comportamentos, como a de orientação sexual, que antes eram suprimidos por grandes veículos de comunicação e pelo conservadorismo. “Significa muito mais do que assistir homens de peruca, significa apoiar uma comunidade que faço parte”, explica Alexandre Lionel, fã do reality show Ru Paul Drag Race,criado em 2009 pela drag RuPaul Charles, o seriado tem como uma das premissas básicas apresentar a cultura e o universo drag para o público.
Segundo Giovana Santana Carlos, a expertise que os fandoms possuem em colocar algum conteúdo, como música, em destaque também pode ser usada para articulações em outras áreas, como a política. Em 2024, a deputada federal Érika Hilton articulou a mobilização de fandoms de divas pop — incluindo fã-clubes de artistas nacionais e internacionais — para protestar contra o PL 1904, que tratava da gravidez infantil, dentro da campanha #CriançaNãoÉMãe. Ela utilizou suas redes sociais, especialmente o X/Twitter, para convocar esses grupos e lançou hashtag como #CriançaNãoÉMãe e #FandomsContraPL1904, resultando em intensa mobilização virtual, envio de milhares de e-mails ao Congresso, presença nos trending topics e adiamentos sucessivos da tramitação do PL na Câmara.
A doutora em Comunicação ressalta a relevância da dinâmica das redes sociais para ampliar a quebra de preconceitos e a sensação de pertencimento. Ela destaca que, a partir das comunidades queer que participa, percebe que esse funcionamento permite à comunidade LGBTI+ ter sua voz e as suas questões não só ouvidas, mas também discutidas e viabilizadas. “São espaços preciosos. extremamente raros para as pessoas conquistarem um lugar na sociedade a partir do momento em que os perfis das redes sociais permitem às pessoas de se encontrar, as pessoas acabam criando laços, sejam laços virtuais, às vezes até laços fora da rede, e que vão fortalecer as pessoas, que vão torná-las relevantes dentro dos seus espaços”, explica. Um dos destaques nesse sentido para a jornalista são as campanhas eleitorais de pessoas LGBTI+, como a da própria Deputada Federal Erika Hilton.







Linha tênue
A crença por si só é inerente ao ser humano. De acordo com o psicólogo Thiago Kucharski, essa crença, que todas as pessoas têm, serve como uma espécie de motivação, permitindo que a pessoa utilize isso como energia para atingir seus objetivos ou apenas para conseguir seguir com sua própria vida. No entanto, a fronteira entre um fã fanático e um apaixonado é o quão longe a pessoa vai para ser fã e quanto isso acaba não apenas lhe prejudicando, mas também todo seu entorno. Para a psicóloga Viviane Perotto, a pessoa dá sinais de fanatismo quando se fecha em si mesma ou em um grupo que defende certos princípios e não deixa abertura para o outro, quando se fecha em ideologias e acredita que suas crenças são únicas e inquestionáveis. “Tudo isso piora quando se sente superior aos demais, caracterizando um narcisismo exacerbado”, salienta.
Ainda conforme o levantamento realizado pela Monks, 64% dos entrevistados acreditam que o ódio de um fã pode ser tão potente quanto seu amor. E um em cada três fãs questionados diz que é ou já foi incentivado pelo seu grupo a ser “hater” de outros fandoms. Um exemplo marcante de ataque de um fandom a outro artista ocorreu em 2021, quando fãs de Olívia Rodrig, chamados de “Livies”, realizaram ataques coordenados contra a cantora Taylor Swift nas redes sociais. O motivo foi a percepção de que Taylor não teria dado o devido reconhecimento a composições de Olívia, levando fãs a promoverem hashtags ofensivas, praticarem cyberbullying direcionado não só à artista, mas também aos seus fãs, conhecidos como “Swifties”, e até mesmo engajar em campanhas de boicote.
Um desejo que anteriormente esteve reprimido, dentro de um contexto grupal pode acabar atravessando a barreira da censura e transformando-se em ato
Viviane Perotto, psicóloga
Para Kucharski, o fanatismo é sempre prejudicial e parte do princípio de sacrifício da própria individualidade. “O conforto da coletividade permite que a pessoa desenvolva uma segurança de que está inclusa em algo, gerando uma sensação de integridade que muitas vezes o indivíduo não possuía”, explica. Ainda, segundo Perotto, o fanático pode ter atitudes em grupo que não teria se estivesse sozinha: “um desejo que anteriormente esteve reprimido, dentro de um contexto grupal pode acabar atravessando a barreira da censura e transformando-se em ato. Essa colocação pode servir como uma explicação a violência não só no contexto da política, como também no futebol e no cenário religioso.”
Pesquisadores chilenos utilizaram ressonância magnética para investigar como o cérebro reage ao fanatismo. No estudo, 43 homens torcedores de dois times rivais assistiram a sequências de jogos enquanto a atividade cerebral era monitorada. Os resultados indicaram que, quando o time preferido vencia, regiões associadas ao prazer eram ativadas; em situações de derrota, havia diminuição do controle cognitivo e interrupção do sistema que regula impulsos, elevando o risco de reações agressivas. Antes do experimento, os voluntários passaram por avaliações psicológicas e responderam a questionários que mediram o grau de fanatismo. A técnica utilizada, não invasiva, identificou mudanças no fluxo sanguíneo cerebral em tempo real durante a exposição aos estímulos esportivos e permitiu concluir que a intensidade da resposta cerebral acompanha as emoções vividas pelo torcedor, ajudando a compreender por que a paixão esportiva pode tanto gerar alegria quanto impulsionar comportamentos extremos. Para o líder da pesquisa, estudos como esse podem ajudar a mapear melhor o comportamento cerebral ligado a atividades com alto grau de fanatismo, como o esporte, a política, a religião, além de questões de etnia e identidade.

“Torcedores”: Como fanáticos utilizam o esporte de escudo para suas violências
A paixão pelo futebol é um item comum ao público brasileiro. Torcer para o clube de um familiar, frequentar estádios, acompanhar todos os jogos do seu time são tópicos presentes no calendário de 73% da população brasileira, segundo pesquisa da plataforma Nexus. Acompanhar a equipe nas horas boas e ruins virou rotina na vida de pessoas como Juliano Pienaro, torcedor do Paraná. Em 1990, após ser levado ao estádio por seu pai, o paranista criou um vínculo inseparável com o clube, um sentimento quase inexplicável. “Só entende quem é apaixonado pelo clube também. Existem pessoas que acham exagero em algumas coisas, mas cada um tem uma paixão”, confessa Juliano. Essa emoção é corriqueira entre torcedores dos mais diversos clubes do país, porém quando esse sentimento se intensifica a ponto de se transformar em motivo para agressões, revela o lado violento da paixão esportiva, evidenciando um importante desafio social vinculado, principalmente, ao futebol.
No levantamento mais recente feito pelo Observatório Social do Futebol, iniciativa vinculada ao Leme (Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte) e à UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), em relação a 2023, o Brasil registrou um total de 158 casos de violência relacionada ao futebol. Entre os registros, 87% eram referentes à violência física, 11% à violência verbal e 2% a outros tipos de violência. Dos 138 casos relacionados à violência física, 45% ocorreram nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com predominância em confrontos entre torcidas diferentes e torcedores contra forças de segurança. Desses casos, 30 evoluíram para fatalidades, correspondendo a 18,9% do total das agressões. Segundo o mesmo estudo, entre 1988 e início de 2025, o Brasil registrou oficialmente 407 mortes em confrontos de torcidas, um índice que se mantém estável nos últimos anos, com médias em torno de 12 mortes por ano mais recentes.
Apesar de a violência no futebol ainda ser comumente relacionada às torcidas organizadas e barras bravas (grupo de torcedores fanáticos de clubes sul-americanos), os casos mais famosos mundialmente estão relacionados ao futebol europeu. Na Inglaterra, por exemplo, existem os hooligans, termo criado para descrever um grupo de indivíduos com comportamento destrutivo e violento, e utilizado para descrever parcelas de torcidas de clubes ingleses na década de 60. Casos como a Tragédia do Estádio Heysel em 1985, conflito causado pelos fanáticos do Liverpool (Inglaterra) e da Juventus (Itália), resultou em 38 mortes, inúmeros feridos e um banimento de 5 anos de clubes ingleses de competições europeias e a briga entre hooligans ingleses e alemães durante a Copa do Mundo de 2006 e até a obra cinematográfica lançada em 2005 chamada justamente Hooligans apresentam a força dos grupos no cenário europeu.
Além do futebol, esses indivíduos possuem motivações vindas de outros tipos de fanatismo. Um exemplo que centraliza três tipos diferentes de fanatismo: esportivo, religioso e europeu, são os torcedores do clube Beitar Jerusalem de Israel. Fundado em 1936 e sendo um dos mais tradicionais da liga israelense, os ultras (outra maneira que fanáticos esportivos são chamados no futebol europeu) têm muito orgulho de sua postura racista e islamofóbica.
Abertamente de extrema direita e racistas, os ultras conhecidos como La Familia protagonizaram diversos casos de islamofobia, como em 2013, quando o clube contratou dois jogadores russos islâmicos. Em resposta, a torcida ateou fogo nas instalações do clube exigindo a rescisão contratual dos atletas. Poucos dias depois, Zaur Sadayev, um dos muçulmanos, marcou um gol pela equipe, momento que fez diversos fanáticos irem embora do estádio, explicitando que naquele momento, o que menos importava para esse grupo era o esporte.
Política de torcida: o fanatismo em palanque
Uma pesquisa realizada pela reportagem do Jornal Comunicação revelou que 92,2% dos entrevistados conhecem alguém fanático politicamente. O fanatismo político, mais que simples divergência, tornou-se um dos maiores desafios para a convivência democrática no Brasil. Dados da pesquisa “Violência política e eleitoral no Brasil” revelam que, só em 2024, o país registrou sete casos de violência política por dia, entre eles assassinatos, ameaças e agressões movidas por rivalidades partidárias. O levantamento realizado por meio do formulário da reportagem reforça esse ambiente, com 93% dos participantes afirmando já ter discutido ou brigado com alguém por razões políticas — 84% admitindo já ter se afastado de amigos ou familiares pelo mesmo motivo.
Parecia que o Bolsonaro importava mais do que a nossa família.
Resposta anônima
Nos depoimentos colhidos, episódios de abuso ou silêncio obrigatórios são recorrentes. Há quem relate ter sido expulso de restaurante por usar camiseta de um candidato, sentir medo de se expressar em ambiente de trabalho ou familiares, e mesmo esconder opiniões políticas para evitar conflitos: “em certos ambientes, eu só concordo para evitar o risco de retaliação.” A coexistência de polarização e auto-censura ficou evidente — em grupos de WhatsApp, redes sociais ou reuniões familiares, muitos evitam qualquer debate para não romper vínculos. Um dos entrevistados lembra que, em 2022, durante a disputa entre Lula e Bolsonaro, as discussões se intensificaram ao ponto de sentir que “naqueles momentos, parecia que o Bolsonaro importava mais do que a nossa família.”
A cegueira seletiva, muito citada nas respostas, é outra marca desse fenômeno. Vários participantes relataram que, diante de líderes ou partidos favoritos, há uma defesa cega, mesmo diante de erros flagrantes: “Pra mim, [é] você achar o político tão perfeito que até quando ele erra, você defende.”
O perfil do fanatismo político, segundo os psicólogos consultados, vai além da paixão ideológica. Para um dos entrevistados da pesquisa, o fanático “idolatra uma imagem ou ideia política como dona da verdade, quase como uma religião.” Outros apontam a falta de senso crítico e descontrole emocional: “Em geral, o fanatismo é sustentado por quem não quer enxergar além da sua opinião ou do que foi imposto. Muitas vezes nem sabem o real impacto da ideologia que defendem.”
A dependência emocional provocada pelo culto a líderes políticos gera efeitos nocivos semelhantes aos vícios. O psicólogo Thiago Kucharski explica: “o fanatismo, ou a crença indiscriminada em algo, exige que a pessoa deixe de lado sua própria individualidade. Quando o indivíduo não sente apreço por si mesmo, o senso de pertencimento a um grupo se torna um conforto.” Para ele, essa dinâmica pode levar à substituição do eu pelo pensamento do grupo, criando uma coleção de sentimentos de inferioridade que só se dissipam no coletivo.
O pensamento crítico é um antídoto para o fanatismo.
Viviane Perotto, psicóloga
As consequências emocionais desse clima são relatadas por especialistas. Segundo a psicóloga, “o fanático não suporta que o outro pense ou viva de modo distinto: ele ama a ausência de diferenças. Quando a alteridade é percebida, sente explodir o desejo de aniquilar esse outro.” Perotto alerta ainda para o padrão de fechamento: “o fanatismo anula o pensamento crítico porque serve incondicionalmente ao que considera maior, incontestável. O pensamento crítico é um antídoto para o fanatismo.”
Logo em um de seus primeiros discursos no mandato iniciado a partir de 2023, o presidente Lula afirmou que o retrocesso civilizatório no Brasil culminou nos atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, apoiadores de Jair Bolsonaro avançaram sobre as forças de segurança e invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. O político também ressalta que a negação da política gera ódio e que “fanatismo é ‘novo monstro’ a ser enfrentado.”
Psicólogos alertam que discutir política e manter opiniões próprias são essenciais à saúde democrática, mas a conversão desses espaços em terreno de guerra sinaliza desequilíbrios profundos. Como resume Perotto, o fanatismo “é excesso, faz mal e exclui quem pensa diferente”. O desafio que fica à sociedade é como reequilibrar paixão política e respeito, sentido coletivo e liberdade individual — sem sucumbir à lógica da anulação do outro, que leva à fragmentação e ao adoecimento dos laços sociais.
Emoção até no bolso
O fanatismo, além de redefinir comportamentos culturais, está movendo cifras expressivas em todo o mundo: segundo dados da Statista, plataforma alemã especializada em coleta e visualização de dados, o setor de merchandise e licenciamento gerou mais de US$ 350 bilhões em vendas em 2024, enquanto a chamada “fan economy” chinesa já ultrapassa 1,2 trilhão de yuans, com os fãs de ídolos representando cerca de um terço desse universo. Por trás desses números, está uma dinâmica de consumo movida pela busca de pertencimento, reconhecimento e experiência, seja comprando o ingresso do ídolo, produtos exclusivos ou apostando em esportes para vivenciar a emoção coletiva.
No Brasil, festivais e turismo musical ampliam esse impacto: de acordo com a ABEOC (Associação Brasileira de Empresas de Eventos), cada turista que viaja para eventos musicais gasta, em média, R$ 1300, o que aquece setores como transporte, hospedagem e comércio local. Esse comportamento coletivo aquece ainda segmentos como streetwear (roupas) voltado para fandoms, que deve atingir US$ 18,7 bilhões até 2033 de acordo com a analista de mercado Research Intelo.
O fenômeno também apresenta riscos. A economista Larissa Dornelas alerta que, por exemplo, no caso das apostas esportivas, o fanatismo pode transformar diversão em problema social e financeiro, especialmente quando consome fatias do orçamento familiar que antes iam para alimentação, saúde ou educação. “Esse hiperestímulo pelo jogo promete recompensas rápidas e pode levar famílias a substituir gastos essenciais por apostas, ampliando a vulnerabilidade social e os riscos de compulsão”, avalia Larissa.
Em 2023, um estudo da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) mostrou que há mais brasileiros que investem em apostas esportivas do que brasileiros que investem na Bolsa. Inclusive, 22% dos entrevistados dizem que apostar é uma forma de investir.
Em 2025, os brasileiros destinaram em média entre R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões por mês a apostas esportivas online, segundo estimativas do Banco Central divulgadas durante as sessões da CPI das Apostas Esportivas no Senado. O Ministério da Fazenda também apontou que pelo menos 17,7 milhões de brasileiros realizaram apostas esportivas no primeiro semestre deste ano, com um gasto mensal médio de R$ 164 por apostador ativo. Com isso, o entusiasmo coletivo deixa de ser apenas o motor da economia, exigindo políticas públicas e educação financeira que acompanhem seu avanço.
“Loucas e histéricas”: um exemplo de misoginia
O estudo da história das mulheres e da cultura ajuda muito a compreender o fanatismo.
Beatriz Polidori Zechlinski, historiadora
A paixão que move os fãs, quando manifestada por mulheres, é historicamente alvo de um julgamento desproporcional e carregado de misoginia. Enquanto o fanatismo masculino, especialmente no esporte, é frequentemente romantizado como “paixão” ou “lealdade”, a devoção feminina é rotulada com termos pejorativos como “loucura” e “histeria”. A diferença, como explicam pesquisadoras de gênero e comunicação, não é acidental: é histórica.
O estereótipo da “fã histérica” tem raízes históricas profundas. A própria palavra “histeria” remonta à Grécia Antiga, ligada ao útero (hystera), e foi usada por séculos para patologizar e silenciar o sofrimento e a expressão emocional das mulheres.
Desde o século XIX, quando a sociedade burguesa moderna dividiu rigidamente o espaço público (masculino, racional, objetivo) e o privado (feminino, emocional, “excessivo”), consolidou-se também a imagem da mulher como alguém incapaz de controlar suas emoções. E o “ser fã” tornou-se uma extensão desse estigma.
Na cobertura midiática, essa herança aparece sempre que mulheres gritando por suas bandas favoritas são retratadas como “loucas”, enquanto homens que choram por seus times são vistos como “apaixonados” ou “fiéis”.
Essa diferença de tratamento não é acidental. Giovana Santana Carlos, do laboratório CULTPOP, aponta que o termo “fanatismo” em si já carrega uma conotação negativa, muitas vezes usada para desqualificar a cultura de fãs, especialmente quando associada a grupos majoritariamente femininos. “O ser fã masculino, especialmente no esporte, é frequentemente romantizado como ‘paixão’ ou ‘lealdade’, a devoção feminina é rotulada com termos pejorativos como ‘loucura’ e ‘histeria’”, aponta.
A representação não é neutra: ela reforça a ideia de que a emoção masculina é legítima, fruto do cansaço, do trabalho, da pressão, enquanto a feminina seria uma falha moral, um desequilíbrio. Como destaca a historiadora Beatriz Polidori Zechlinski, essa lógica funciona como mecanismo de controle: mulheres que ocupam a rua, a noite, a fila de show ou o estádio desafiam simbolicamente o lugar que lhes foi imposto.
Por isso, quando elas extravasam, o julgamento é imediato. “A possibilidade de uma mulher pertencer a um grupo que não seja o da família é uma forma de libertação dessa dominação masculina”, afirma. Para ela, essa presença pública, barulhenta e emotiva ainda é vista com estranhamento, como se a mulher que expressa paixão estivesse “descontrolada”.
Essa distorção também atravessa os fandoms contemporâneos. As mesmas meninas que organizam mutirões, mobilizam campanhas, produzem conteúdo, movimentam economias inteiras e mantêm as indústrias culturais vivas são frequentemente retratadas como fúteis ou irracionais.
As próprias fãs têm consciência disso. A redatora Mallu Lamounier, criadora do primeiro portal dedicado à cantora Phoebe Bridgers no mundo, admite que já sofreu ataques dentro do próprio fandom, e mesmo assim, foi a primeira a organizar um projeto coletivo exibido pela cantora em show.
Assim como Camila Trevisan, fã de Jonas Brothers há 17 anos, conta que a maioria das pessoas “julga esse amor”, especialmente quando ele é dedicado a uma boyband. Mesmo assim, ela não se incomoda. “Desde lá, [2008] eles fazem parte da minha vida todos os dias. Sinto amor mesmo, fico feliz com as conquistas pessoais deles como se fossem próximos meus, pois sinto que são”, declara. Ainda assim, a leitura dominante continua sendo a do exagero: dormir na rua para ver um show, como ela fez em 2024, não carrega o mesmo peso simbólico de algo fora da cultura pop.
A pesquisadora Giovana Carlos lembra que essas leituras são estruturais: a cultura pop é um dos poucos espaços em que meninas, mulheres e pessoas LGBTQIA+ aparecem como protagonistas de suas próprias comunidades, construindo pertencimento e identidade. E justamente por isso viram alvo recorrente de desprezo, deslegitimação e piadas. Não se questiona a paixão, questiona-se quem a sente.
A misoginia que atravessa o fanatismo feminino não se revela apenas nos discursos, mas também na forma como essa emoção é tratada: como se fosse menos séria, menos política, menos válida. Mas a verdade é que inúmeras fãs entrevistadas nesta reportagem revelam o oposto. Para elas, ser fã é criar laços, sobreviver a violências, encontrar refúgio, reorganizar o mundo quando tudo desaba. É trabalho, é criação, é comunidade. É identidade.
O viés de gênero também se cruza com o de raça e xenofobia. Para Sandra Nodari, fandoms e comunidades pop funcionam como ambientes em que minorias finalmente encontram acolhimento. Nodari, no entanto, ressalta que esse processo não ocorre igualmente entre grupos sociais: “Uma pessoa extremamente conservadora e preconceituosa dificilmente vai desconstruir seus estereótipos. Mas dentro das bolhas progressistas, sim, porque ali existem debates, escuta, leituras, perfis que permitem reflexões que o jornalismo generalista não faz.”
Carolina, fã de cultura leste-asiática desde a infância, lembra de ter sido chamada de “esquisita” e de ter sofrido bullying “por cantar em língua estranha” e ver “desenhos de criança”. Hoje, com k-pop e anime mainstream, o julgamento diminuiu, mas ainda aparece travestido de deboche.
“O estudo da história das mulheres e da cultura ajuda muito a compreender o fanatismo”, afirma Zechlinski. Para ela, entender o modo como mulheres foram afastadas do espaço público ajuda a explicar por que seu entusiasmo continua sendo tão policiado, e tão politizado. “Essa construção é histórica. E ao passo que o fanatismo está ligado a isso, estudar a história contribui enormemente para compreender o fenômeno.”
REPORTAGEM: Gustavo Gomes, Marya Marcondes e Sophia Martinez.
ORIENTAÇÃO: Gabriel Bozza.